Num comboio que liga a cidade de Han-Keu a
Pequim, viajam dois passageiros invulgares. Nesta Primavera chinesa de 1964,
Mao ganha balanço para começar a Revolução Cultural, que terá lugar dois anos mais
tarde e deixará uma pegada sangrenta no legado do mentor da Longa Marcha.
O culto do líder já está presente em todas
as cerimónias públicas, mas não atingiu ainda a obsessão que marcará a China da
viragem de década. O regime foi finalmente reconhecido no Ocidente pela
desalinhada França de De Gaulle, mas os estrangeiros são raros por estas
paragens. Os vistos são cuidadosamente atribuídos e as visitas ao interior da
China rural são limitadas. Muitos chineses nunca viram um rosto europeu. Hoje,
porém, por circunstâncias acidentais, viajam dois passageiros especiais neste
lento comboio, que resmunga a 50 km/h, revelando uma paisagem monótona, arada,
amarelecida. «Tudo quanto a vista abarcava estava tratado, não havendo um
pedaço de terra que não fosse cultivado», escreveu mais tarde um dos
personagens da narrativa.
Os comboios chineses são um espelho
involuntário de uma nação em mutação. Pelos altifalantes, ecoam mensagens
polidas em mandarim, reflectindo os novos tempos: «A todos, boa-tarde e desejos
de boa viagem», recomenda a dado ponto uma voz feminina. «Seremos, durante algum
tempo, como uma família – e essa família terá de viver unida. Em cada
carruagem, se o considerarem necessário, poderá ser eleito um representante dos
interesses dos passageiros, que tratará directamente com o chefe do comboio (…)
Aconselhamos, para melhor vencer o tempo, passeios de ida e volta pelos
corredores de todas as carruagens do comboio. Isso só faz bem. Nas estações
onde o comboio demore mais de vinte minutos, todos podem sair e passear, não se
devendo esquecer a ginástica.»
Os dois passageiros não evitam o riso
perante a obstinação da mensagem. Mas efectivamente, à primeira paragem,
verificam, atónitos, como os seus companheiros de viagem abandonam as
carruagens e iniciam movimentos gímnicos descoordenados no cais. Com notório
exagero, o homem mais velho anota no seu caderno: «Lançou-se a propaganda da
ginástica nos mesmos moldes da propaganda do combate à mosca. E simplesmente o
povo obedeceu. (…) Creio que foi Mao que a aconselhou, (…) e Mao, com o seu
imenso prestígio, tudo consegue do povo chinês. Ele, como Confúcio…»
O português tem pouco mais de 50 anos.
Magro, decidido, quase calvo, está acompanhado por um oriental a quem vai
pedindo para traduzir as palavras em mandarim ou cantonês. Rabisca tudo
diligentemente no seu bloco de
notas. Chama-se José de Freitas, é enviado-especial do “Diário Popular” e está
na China há mais de uma semana. Ali permanecerá entre 6 e 22 de Abril.
 |
Fotografias de José de Freitas retiradas de "A China Vence o Passado"
Arquivo do autor |
A inglesa é mais nova – terá menos de 30
anos, na estimativa de Freitas. Bonita, chama rapidamente a atenção de todos os
passageiros na estação de Han-Keu, onde entra a bordo. Está pintada e isso,
nesta China normalizada de Mao, onde homens e mulheres trajam roupa azul e de
formatos indistintos, é uma novidade. Geram-se cochichos: mulheres com o rosto
pintado estão agora reservadas ao teatro. A jovem (que Freitas não identifica)
trabalha para a embaixada britânica em Pequim e acompanhara industriais do seu
país numa visita a uma siderurgia. Tal como Freitas, não aprecia viagens de
avião, pelo que preferiu o regresso por via férrea, mesmo que este lento
comboio chinês demore cerca de 36 horas a ligar as duas cidades.
Em breve, porém, os dois europeus terão
uma história incrível para contar.
NOTA DE RODAPÉ
Há duas maneiras de contar esta história,
como aliás normalmente acontece com todas as outras histórias.
Moisés Fernandes, especialista reputado em
história das relações diplomáticas entre Portugal e a China na segunda metade
do século XX, descreveu-a singelamente em notas de rodapé de dois artigos
recentes (aqui e aqui). Entre 6 e 22 de Abril de 1964, o jornalista José de Freitas, do
“Diário Popular” (DP), viajou pela China e publicou «artigos laudatórios sobre
o regime chinês». É verdade: Freitas era um apaixonado pela China e tinha
notórias simpatias pelo socialismo chinês. Na divisão empírica de temas pelos
redactores do jornal, cabiam-lhe normalmente as notícias e colunas de opinião
sobre o Oriente. Conhecia Macau e já publicara em 1941 “A China Antiga e Moderna”
na Biblioteca Cosmos, dirigida por Bento de Jesus Caraça. Era o mais sinólogo
dos jornalistas portugueses da década de 1960.
Diz igualmente Moisés Fernandes que a
viagem de José de Freitas, tal como a de Mário Rosa (também do DP) anos antes,
integrou-se no esforço de «certas correntes do regime português [para tentar]
persuadir Salazar a estabelecer relações diplomáticas com a China». A premissa
parece igualmente válida, embora a viagem de Mário Rosa fosse muito mais politizada do que a de José de Freitas. De todo o modo, em Janeiro desse ano de 1964, o
ministro Franco Nogueira informara o “New York Times”, em confidência, que o
regime ponderava esse passo e havia certamente interesse em mostrar boa vontade ao regime de Mao. A rápida decisão de reutilização das crónicas
jornalísticas de Freitas (publicadas em Maio) em livro, publicado em Julho com
o título “A China Vence o Passado” [Edições Cosmos], suporta a tese da
aproximação de simpatias entre Lisboa e Pequim.
Todavia, estas informações básicas –
verdadeiras, sem dúvida, e irrelevantes no quadro das relações entre os dois
países – não esgotam as excepcionais reportagens que José de Freitas assinou no
país de Mao Tsé-Tung. E é essa narrativa que vale a pena recuperar na história
de episódios do jornalismo português que ensaio neste espaço. Para isso, é
fundamental voltar ao comboio que se arrasta pela planície de Hopei.
FILIAÇÕES, FOTOGRAFIAS E INTÉRPRETES
Iniciado em 1963, o pedido de visto para a visita
profissional de José de Freitas à China foi deferido um ano depois – para lá da
inércia e desinteresse chineses por estas visitas, pesou seguramente o facto de
os dois países não terem à data relações diplomáticas. De Pequim, chegaram
pedidos de dezenas de fotografias do repórter e foi enviado um questionário com
perguntas indiscretas como a filiação política (vigiado em Lisboa e em Pequim,
Freitas respondeu simplesmente “republicano”). Recomendaram-lhe que nada
fotografasse sem autorização, mas a proibição não foi levada a sério: «Nas
fábricas, nas comunas, nas ruas e nas praças, nunca ninguém me impediu de
fotografar quanto quis.»
Foi-lhe imposto um “acompanhante
jornalista”, Choi Hong Seong, que serviu de intérprete e guia. José de Freitas
não era ingénuo. Filho de uma das lendas do jornalismo republicano da primeira
metade do século, Amadeu de Freitas, tinha noção do controlo a que estaria
sujeito ao longo da reportagem. Em Cantão, por exemplo, o guia que colocaram à
sua disposição anotava diligentemente… todas as perguntas que José de Freitas
colocava aos interlocutores chineses. Mas, tanto quanto se apercebeu,
«mostraram-me quanto quis e me foi possível ver», descartando «uma gigantesca
combinação» que pudesse ter sido feita entre as várias dezenas de
interlocutores que lidaram com ele. «Não tenho quaisquer razões que me permitam
julgar que não eram sinceros.»
 |
Primeira página do "Diário Popular" de 7 de Maio de 1964
(a partir de arquivo da Biblioteca Nacional) |
Aos leitores, garantiu: «Visitei a China
como jornalista independente, alheio a quaisquer combinações, sem a
subordinação dos convites, exclusivamente com dinheiro do meu jornal.» Bem
documentadas, redigidas no tom pessoal e directo que fazia escola no “Diário
Popular”, as suas crónicas expressam as interrogações de José de Freitas sobre
o regime que o acolhia. Há passagens profundamente laudatórias do regime de
Mao, tal como ficaram registadas várias recriminações. «Durante a minha estada
na China», escreve a dado ponto, «deram-me sempre muito mais jantares do que
notícias».
A recriminação tinha razão de ser. Sem
dominar o mandarim, Freitas esteve sempre dependente das traduções de Choi.
«Dependia de Choi para comunicar com o mundo que me rodeava», reconheceu. E
José de Freitas preferia falar com o povo anónimo, espontâneo. Para isso, «não
há como o comboio para se ver alguma coisa de um país, principalmente para quem
viaja com a tarefa de o ver, de o compreender.» É por isso que o encontramos no
comboio de Hopei, procurando descodificar o país emergente.
UMA EXPLOSÃO
São cerca de quatro horas da tarde do dia
12 de Abril. O comboio marcha para Pao-Ting-Fu [mantêm-se neste texto a
toponímia tal como ela foi registada por José de Freitas]. Tentando recordar
todos os pormenores deste dia, o jornalista contou que não conseguia precisar
se o comboio já passara por Chekia-Tchuang, importante entroncamento
ferroviário entre as províncias de Xantung, no litoral, e Xan-Si, no Oeste.
Pela vidraça da janela do compartimento onde os dois europeus conversam, a
planície «estendia-se até perder de vista, sem a mínima elevação. O céu era
todo cinzento, uniformemente cinzento.» Num banco, o guia e intérprete de
Freitas dormita, num processo digestivo moroso, depois de ter comido laranjas e
um bolo de farinha branca, quase crua, com recheio de carne de porco. «Só em olhar
para o tal bolo se me revolviam as tripas.»
De súbito, a jovem inglesa chama a atenção
de Freitas para a paisagem. «Quase na linha do horizonte, não posso precisar a
quantos quilómetros de distância, formara-se uma nuvem mais cinzenta do que o
próprio céu cinzento, a destacar-se, com contornos nitidamente limitados,
claramente definidos. Tinha a vaga forma de um cogumelo.»
 |
Nuvem em forma de cogumelo na Sardenha, em Julho de 2014
Arquivo do Daily Mail |
Desde 1963 que se comentava nos jornais
internacionais que seria uma questão de tempo até a China desenvolver
capacidade militar nuclear. O regime soviético apoiara largamente os esforços
de Mao para dotar o país de armamento nuclear, lançando uma nova preocupação
para o debate sobre a proliferação de armas nucleares. É, naturalmente, possível que a
visibilidade pública do tema tivesse poder sugestivo sobre os dois passageiros
do comboio de Hopei.
«Dentro da própria nuvem havia laivos
negros», continuou Freitas. «Depois do cogumelo grosseiro, era uma cunha, como
se fora um triângulo suspenso no céu, para mudar de tamanho e tomar o aspecto
de uma bola achatada. Parecia que dentro da nuvem – no seio da própria nuvem –
havia uma força inteligente que a domava e afastava ou aproximava de nós, a
movia no espaço para um lado, para outro, dando-lhe sempre formas variadas e
singulares.»
A rapariga inglesa verbalizou o que ambos
pensavam:
– Que será aquilo? Que coisa estranha!
«Nem ela nem eu quisemos pronunciar as
terríveis palavras que igualmente, estou certo, nos acudiram aos lábios. O
estranho fenómeno, o cogumelo, o trágico cogumelo, estava agora cada vez mais
negro, raiado de preto. Depois agitou-se num vaivém e desfez-se. O espectáculo
singular demorara pouco mais de cinco minutos.»
Freitas ainda alvitrou que fosse uma
tempestade, mas faltava-lhe convicção e ambos decidiram não partilhar a
história com os companheiros chineses de viagem. «Longe de mim afirmar que
assisti a uma explosão atómica nas longas planícies da província de Hopei. Mas
se não era uma experiência nuclear – que seria aquilo?» Freitas guardou segredo
do que viu até voltar a pisar a Macau, onde confidenciou o avistamento «a quem
considerei que o devia fazer e a um amigo íntimo. O meu instinto, e nada mais,
aconselhou-me a não fazer qualquer referência ao caso enquanto estivesse na
China.»
EPÍLOGO
José de Freitas nunca soube ao certo o que
vira da janela do seu comboio em Hopei. Hoje, sabemos que as nuvens em forma de
cogumelo não se formam apenas na sequência de explosões atómicas. Elas podem
ser também resultado de erupções vulcânicas (não foi listada nenhuma para
aquela região chinesa em 1964), de colisões de meteoros com a Terra (não se
encontra nenhuma com estas características nas bases de dados internacionais),
de explosões industriais, na sequência de grandes incêndios florestais ou… em
tempestades muito particulares. Há poucos dias, o “Daily Mail” publicou a
história de como um relâmpago e uma tempestade violenta geraram um fenómeno
deste tipo na Sardenha (aqui),
alarmando a população local com uma nuvem em forma de cogumelo.
As quinze crónicas sobre a viagem à China
foram redigidas já em Lisboa e o “Diário Popular” começou a publicá-las, sempre
com destaque de primeira página, a partir do dia 7 de Maio e até ao dia 26. Ao
anunciar a série, o jornal dirigido por Martinho Nobre de Melo garantia que teria
sido muito fácil comprar na imprensa estrangeira uma série de artigos sobre a
nova China, mas que devia aos leitores uma perspectiva portuguesa sobre o país
de Mao e assumia o compromisso de oferecer nas suas páginas reportagens de
qualidade.
 |
Martinho Nobre de Melo, em caricatura do Sempre Fixe, 1932
(a partir de arquivo da Hemeroteca Digital) |
Num típico sinal dos tempos, Freitas não
hierarquizou o avistamento de Hopei na sua série de impressões sobre a China.
Apesar de não manter no relato uma ordem cronológica face aos locais visitados,
optou por guardar Hopei para o 12.º artigo, publicado no dia 21 de Maio. O
título, pouco claro e atípico num jornal que se vangloriava do seu jeito para
“manchetes” simples e claras, informava: “UMA EXPLOSÃO ATÓMICA PARECIA O
ESPECTÁCULO A QUE ASSISTI NA IMENSA PLANÍCIE CHINESA DE HOPEI.” É provável que
o próprio José de Freitas hesitasse em qualificar o que avistara. A peça foi
aprovada sem cortes pela Censura, tanto na versão jornalística, como no
capítulo do livro.
 |
Primeira página do "Diário Popular" de 21 de Maio de 1964
(a partir do arquivo da Biblioteca Nacional) |
Curiosamente, apesar de tudo apontar para
um fenómeno meteorológico, os olhares dos serviços de espionagem ocidentais
estavam de facto focados na China. Um memorando secreto da Special National
Intelligence Estimate, datado de 26 de Agosto de 1964, informa mesmo que a China
estava prestes a ganhar a corrida nuclear, tornando-se a quinta potência com
acesso à bomba. A suportá-lo, estavam as fotografias aéreas de dois sítios de
testes (relatório desclassificado aqui)
Meses depois, em Outubro, o mundo ficou de
facto a saber que a China realizara finalmente os primeiros ensaios nucleares.
Foi em Lop Nur, na distante Mongólia, que o regime de Mao testou, pela primeira
vez, a poderosa invenção de Oppenheimer. O “Diário Popular” optou por não
contextualizar nessa altura o avistamento de José de Freitas e só viria a
referir-se ao caso três anos depois, na edição do seu 35.º aniversário, em
Setembro de 1967. Num texto elogioso de Mário Ventura Henriques, José de
Freitas foi apresentado como o jornalista sagaz que tão habilmente escapou das
bombas em Gaza em 1956 (em episódio que espero contar aqui mais tarde) como
teve a sorte de estar no lugar certo em 1964, assistindo a experiências atómicas
chinesas!
Com o tempo, o potencial “furo”
jornalístico foi esquecido e nunca galgou as fronteiras portuguesas. Até hoje,
desconhece-se que fenómeno terão José de Freitas e a funcionária da embaixada
britânica em Pequim presenciado na planície de Hopei, a partir da janela de um
comboio. E esse mistério não explicado dá um sabor especial à saga de José de
Freitas no Império do Meio.
Ler também a Parte 2.




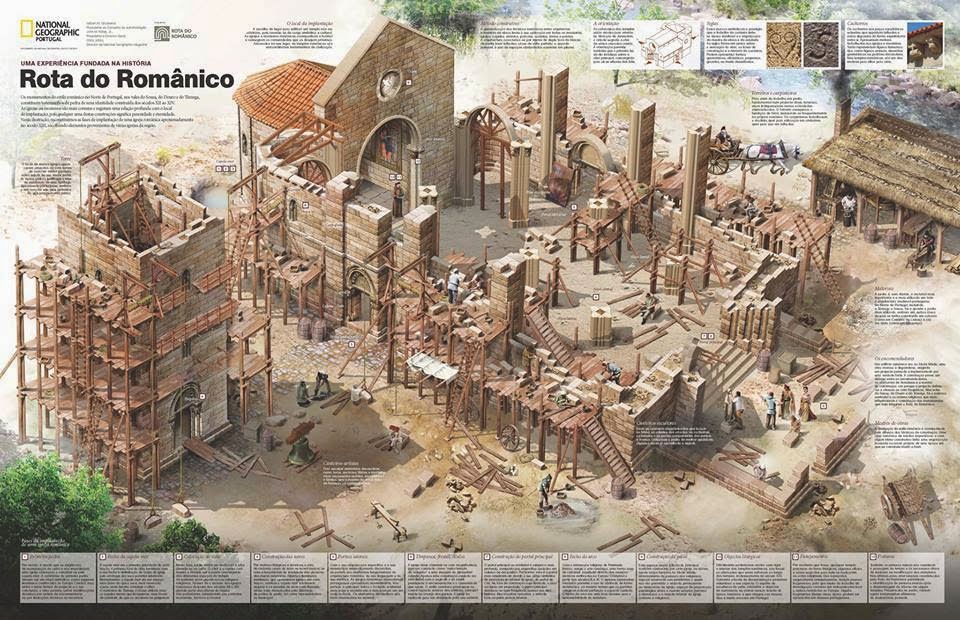















.JPG)

