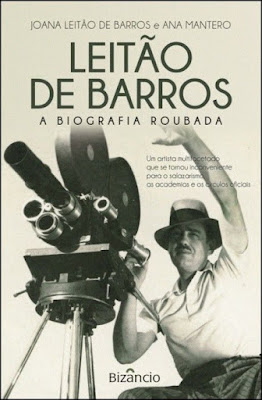Em tempos de quarentena forçada, valem-nos
os livros. Leitão de Barros, A Biografia
Roubada, de Joana Leitão de Barros e Ana Mantero (Bizâncio, 2019), estava
há semanas estacionado na mesa de cabeceira, lido e ponderado. Aqui fica, por fim,
a recensão.
****
A classe de 1895-96-97 foi das mais
diversificadas da vida pública portuguesa. Gerou jovens que viveram a
Implantação da República na adolescência (com 15/16 anos) e assistiram ao golpe
do 28 de Maio de 1926 na sua fase mais criativa, dobrado que estava o cabo dos
30 anos. Alguns escolheram a vida artística, como Luís Cristino (n. 1896) e
Cottinelli Telmo (n.1897), que se tornariam arquitectos de renome. Outros
escolheram as Letras, como Azeredo Perdigão (n.1896), Reinaldo Ferreira (n.
1897) ou – se me permitirem que estique a classe por mais um ano – Ferreira de
Castro (n.1898). Outros ainda, com a maturidade, fizeram vigorosas opções
políticas, abraçando primeiro o Estado Novo e demarcando-se depois (em
diferentes graus) do salazarismo. Entram neste grupo Henrique Galvão (n. 1895),
António Ferro (n. 1895) ou Armindo Monteiro (n. 1896).
E depois, claro, há o caso sui generis do biografado deste livro,
José de Leitão de Barros (1896-1967).
Resultado de sete anos de prospecção,
separação e leitura do arquivo pessoal de Leitão de Barros, a obra corresponde
a um esforço meritório para retirar Barros da obscuridade para onde foi
resvalando, justificando apenas interesse parcial da academia e dos
investigadores. Ao longo dos anos, emergiram da universidade teses sobre
Barros, o cineasta, ou Barros, o director artístico de jornais. Nenhuma, até
agora, ousou tentar explicar todas as facetas de um homem multifacetado, com
intervenção no jornalismo (através da entrevista, da reportagem, da crónica e da
direcção de arte e fotografia), no cinema (como realizador, guionista e
empresário), nas artes populares (com a invenção das marchas populares), na
escultura, na pintura, na música ou na cenografia do espaço público. Será nesse
sentido que as autoras propõem restituir a biografia «roubada» a Barros, como
um tributo que faltou.
Escrita a quatro mãos por duas das netas de
José Leitão de Barros, a obra revela um extraordinário espólio pessoal mantido
pelo biografado até ao fim dos seus dias, guardando as centenas de cartas que foi
recebendo, mas também os esboços das cartas que dirigiu, o que permite um
acompanhamento vivo e documentado das muitas polémicas em que Barros se foi
envolvendo.
Desse ponto de vista, a obra é monumental.
Para investigadores como o autor da recensão, que esgravatam há anos arquivos
públicos em busca de fragmentos de informação, um arquivo intacto como o de
Barros é um Eldorado ou, se preferirem, é a promessa de uma nascente de um novo
e caudaloso rio de informação.
Nas cartas de Barros, seguimos o drama do
cineasta que perde quilómetros de filme gravado no sertão brasileiro porque um
funcionário da alfândega de Lisboa expôs descuidadamente as caixas de filme à
luz solar. Seguimos as discussões com Martins Barata e Cottinelli Telmo sobre o
rumo da carreira do aguarelista. Acompanhamos (naquele que será o melhor trecho
do livro) as trocas de impressões com Salazar, à medida que o ditador lê as
versões da entrevista que Barros conduziu com ele para O Século, retocando-as e sugerindo as passagens a destacar.
«Não sei se, apesar da referência feita no
trabalho às perguntas ‘cozinhadas’, não seria melhor adaptá-las às respostas.
Pelo menos em relação a algumas. Pode parecer que não se quis tratar das
questões postas, mas o L.B. fará como entender. (…) Eliminei alguns termos
fracos ou deslocados», escreve Salazar, em Agosto de 1950 (pg. 110) Depois, com
a entrevista na rua, dirá: «Continuo a pensar que a entrevista nada tem de
sensacional, nem mesmo de importante que justifique dar-lhe o jornal relevo excepcional
(…) Não seria prudente ser-se mais comedido nas apresentações ao público de
coisas que qualquer um poderia dizer?» (112).
O acervo possui igualmente pequenas
pepitas. Revela por exemplo como Augusto de Castro, em 1940, ainda na pele de
embaixador, descreve depreciativamente o cinema como «arte em compota» (pg.
135), tese que o futuro director do Diário
de Notícias certamente não apadrinharia mais tarde. E expõe a falta de
vergonha da Academia de Belas-Artes, no fim da vida de Barros, negando-lhe o
acesso por motivos pouco nobres, com a agravante de o voto que lhe faltou para
a aceitação dos pares ter sido sonegado por Martins Barata, seu familiar.
Estes são os méritos de uma obra notável e
necessária. Vamos às fragilidades.
Quando um trabalho desta envergadura é
conduzido por descendentes do biografado, há uma tendência quase irreprimível
de limar arestas. Barros foi um dos ideólogos do salazarismo. Não foi cúmplice,
nem personagem secundária do culto da figura de Salazar, ainda ministro das Finanças
em 1928. O capítulo dedicado à intervenção de Barros no Notícias Ilustrado é frágil e não resiste a uma análise crítica.
Através do recurso à fotografia (que, aliás, em depoimento muito mais tardio ao
Diário Popular, Barros dirá que nunca
teve pudor em manipular para efeitos cénicos ou ideológicos), Barros construiu
um mito.
O seu distanciamento do regime depois da
Segunda Guerra Mundial não apaga essa identificação prematura. Aliás, o próprio
distanciamento dever-se-á mais a opções estéticas (uma aposta vigorosa no
cinema e o êxodo do jornalismo, excepto através da crónica de costumes, de que
foi exímio intérprete) e financeiras do que ideológicas. Barros e António Ferro
criaram um monstro que depois os engoliu, mas não deixaram de o criar e o livro
pouco questiona esse papel. Basta lembrar a esse propósito o episódio da
«identificação» de Salazar nos Painéis de São Vicente, «vendido» na primeira
página do Notícias Ilustrado.
Há uma segunda dimensão de Barros que não é
questionada nesta interpretação histórica. Na juventude artística, Barros não
arriscou. Almada Negreiros e todo o Grupo do Orpheu colocaram o pescoço no
cepo. Arriscaram pela opção artística mais árdua e, em muitos casos, pagaram o
preço da penúria na década seguinte. Almada e Reinaldo Ferreira ousaram partir
para o estrangeiro, superando as fragilidades impostas pelo obtuso mercado
português. Leitão de Barros – perdoem-me a crueza da expressão – casou bem e
fez aguarelas. É uma opção respeitável, só que não fez dele um pioneiro.
Numa obra desta dimensão, que lida com sete
décadas de informação, são também inevitáveis as pequenas gralhas e
interpretações erradas. A data crucial da revolta de Fevereiro de 1927 em
Lisboa não é o 9 mas o 7 (pg. 79) e, no instante, Barros nada arriscou. Já
estava do outro lado da barricada.
As iniciais Z.Z. não correspondem a Leitão
de Barros, como sugerido (pg. 84). Como explicou Ribeiro dos Reis em depoimento
prestado ao Sports em 1950, Z.Z. era
o nome com que Norberto de Araújo começou por assinar os seus trabalhos no Jornal dos Sports.
Há igualmente uma confusão comum entre os
Caetanos Beirões da Veiga que lidaram com o mercado das notícias em Portugal na
primeira metade do século XX. E nota-se, claro, um cuidado extremo em não tocar
nos aspectos da vida de Barros que esbarraram com a moral e bons costumes da
época, valendo-lhe até uma polémica detenção policial.
Em resumo, Leitão de Barros: A Biografia Roubada torna-se agora, por direito
próprio, a obra de referência sobre o biografado. Restitui-lhe alguma
profundidade e deverá ser ponto de partida para novas investigações sobre o
papel de Barros nos múltiplos campos em que interveio. Não é para ser tomado à
letra, como os mandamentos de pedra de Moisés, mas é o melhor que já foi
produzido sobre esta figura peculiar. O que já não é pouco.