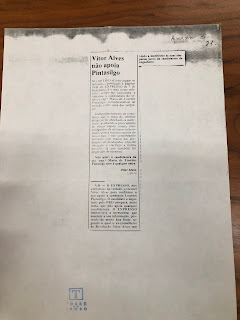A notícia da morte de José Costa Carvalho apanhou-me em Espanha e não pude prestar-lhe a homenagem que queria. Sabia-o doente e adivinhava o final, mas custa ver soltar-se um pedaço, grande como um icebergue, da plataforma do jornalismo portuense. Tínhamos falado em Novembro, quando voltou a insistir que me cabia escrever a história dos dias finais de um grande escritor português. Passou-me documentação, um testemunho e uma torrente de correios electrónicos entre os últimos amigos do escritor, todos já desaparecidos. «Não nos deixe mal» – pediu. Já veremos se cumpro o desígnio e se faço justiça ao Altino...
****
Costa Carvalho escrevia em maiúsculas. Não o fazia por soberba nem por insulto. «É para poder ler o que escrevo», disse-me um dia. E, no entanto, se alguém no jornalismo do Porto poderia falar de cátedra seria ele, o único que chegou a cargos de direcção nos três grandes jornais da cidade, o fundador da primeira instituição de ensino de jornalismo do Porto, o formador de tantas levas de jornalistas que lhe chamavam «mestre» com carinho e que o choraram por essas páginas de Facebook fora nas últimas horas.
O meu primeiro chefe da redacção não gostava do Costa Carvalho. Comunista do princípio ao fim, creio que nunca percebeu que o partido do Costa Carvalho era o jornalismo. Foi um erro habitual antes e depois da revolução. Os jornalistas vinculados a partidos nunca perceberam um homem que foi sempre livre. Entre 1977 e 1979, o Diário de Lisboa e o Página Um acusaram-no de maquinações extravagantes, de viagens à República Federal Alemã e de adesão a um comité da contra-revolução. Carvalho nunca vergou: defendeu-se em Conselho de Imprensa e ganhou sempre esses casos. Ria-se. O currículo dele na polícia política era mais extenso do que o dos revolucionários pintados à pressão.
Tinha respeito pelos homens de convicção. «O Comércio do meu tempo [em 1974] era um albergue de comunistas. Genuínos, não eram convertidos à pressa. Deram-me água pela barba. Sacanagem atrás de sacanagem. Mas eram genuínos», disse-me numa entrevista em 2023 no seu apartamento desarrumado e cheio de livros em todos os recantos, durante a qual devorou cigarros atrás de cigarros.
A história das suas entradas e saídas nos jornais do Porto merecia um livro. Entrou para o JN num aperto, em 1961. Não havia ninguém, o Benfica jogava em Berna a primeira final europeia. «Era colaborador. E o senhor Manuel Ramos pediu-me para fazer a página de desporto porque o chefe tinha ido para casa – a mulher tivera um parto e a coisa correra mal. O senhor Ferreira, mais conhecido como o Alemão, era o chefe da tipografia e disse logo que me ajudava. E o senhor Manuel Ramos acompanhou-me. Eu transpirava por todos os lados, tratando-os por senhores. Os colaboradores chegavam, deixavam a prosa e piravam-se. Saí todo esbodegado, mas, no dia seguinte, convidaram-me para entrar para o quadro»
No JN de Pacheco Miranda, formou, com Frederico Martins Mendes, Serafim Ferreira e José Luís Simões de Abreu, o quarteto dos intelectuais da bola. O jornal salvou-se, ganhou respeito. «O jornal era feito no Porto, mas feito para entrar no Porto por fora, por via das pessoas que aqui vinham trabalhar», explicou-me quando lhe perguntei como salvara Miranda um jornal destinado a fechar. «A ideia era que todos os concelhos do Norte estivessem representados nas nossas páginas. Nenhuma notícia era demasiado pequena»
Correu todas as secções. Fez-se grande repórter. Em 1973, viajou para a Guiné e entrevistou Spínola – uma entrevista que deu sarilho pelo conteúdo e porque as fotografias mostravam os oficiais portugueses desgrenhados e mal vestidos. «O Spínola na altura disse-me que a guerra estava perdida, mas que eu não podia escrever nada. É curioso: a Censura teve instruções para não mudar uma vírgula do que escrevi... Havia muita coisa a correr nos bastidores que nós nunca soubemos.»
Pouco antes da revolução, Costa Carvalho trocou o JN pelo Comércio do Porto. «Fui receber mais do dobro porque tinha quatro passarinhos a meu cargo», disse-me. Mas o jornal estava um caos e, no xadrez da luta política, passou a apoiar Veloso, contra todas as evidências. «Mais tarde, já deputado, ainda deitei a mão ao Comércio para não o fecharem por dívidas, mas foi só um adiamento de sentença.»
O mestre foi depois integrado no Primeiro Janeiro, já depois da morte do grande director que foi Pinto de Azevedo. Foi dele que escutei as histórias mirabolantes sobre a tipografia e o sistema de envio de originais por tubagens que o director tinha visto em Inglaterra. «Aquela merda encravava», explicou-me Costa Carvalho. «O tubo mal chegava à tipografia e ficava entupido. Era um horror.» Foi também por ele que soube que o prestígio e fortuna de Pinto de Azevedo eram tais que, em Toledo, conseguiu que desligassem as luzes da catedral para que o grande industrial pudesse ver as pinturas de El Greco à luz de tochas, tal como o artista desejara que fossem entendidas.
Com Freitas Cruz na direcção até 1981, o Janeiro virou à direita. Nunca esquecerei a descrição que Costa Carvalho me fez da primeira reunião em que a administração explicava como seria a “isenção” a adoptar no noticiário das campanhas eleitorais: «Disse-nos que o jornal acompanharia a campanha com isenção, mas moderação. E eu, que já não era ingénuo, perguntei: “Ó director, como é? Dê-me um exemplo.” Ele pegou no jornal e mostrou: “Faz-se uma notícia grande para transmitir o que Sá Carneiro disse no dia em causa e depois põe-se uma bolinha pequena para explicar que Mário Soares esteve em Esposende.” Eu não tinha nada a favor nem contra Soares, mas aquilo não era jornalismo.»
As histórias com Freitas Cruz, aliás, davam para um livro, tal como o ano e pouco de convívio que Costa Carvalho teve com a escritora Agustina Bessa-Luís em 1986 e 1987, quando esta se tornou a primeira mulher directora de um jornal diário português e Carvalho foi o seu director-adjunto. «O que nós nos ríamos dos calaceiros que lá tínhamos na redacção. Um passava o dia ao telefone para parecer que estava ocupado. Outro levava dois casacos para deixar um na cadeira e parecer que estava em serviço. E a Dona Agustina ria-se destas pequenas coisas do submundo, a fazer lembrar o Almeida Garrett.»
Costa Carvalho voltou ao JN no último período áureo do jornal, entre o final da década de 1980 e o fim do século. Foi um senhor até ao fim, mesmo quando o puseram de castigo no arquivo, a colar e a fazer recortes. E, quando negociou a saída, inscreveu-se no mestrado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde produziu uma tese notável sobre o escritor Gomes de Amorim.
Não concordámos em tudo. Eu dizia-lhe que, em duas gerações, Agustina ficará esquecida e ele zangava-se. Chateava-me com o meu Sporting e eu não tive coragem de o chatear quando o Boavista dele iniciou a espiral de decadência. Aprendi com ele a gostar de Amarante, de Teixeira Pascoais e das tradições de São Gonçalo. Em contrapartida, ele nunca percebeu o meu interesse pelo Tal & Qual e achou o livro que escrevi, com o José Paulo Fafe, o mais frágil de todos os que produzi.
Talvez o episódio que melhor o defina tenha sido o dia em que percebeu que Ramalho Eanes abandonava o Partido Renovador Democrático à sua sorte. «Na última reunião do grupo parlamentar, que tinha 45 deputados, eu disse. “Salvo melhor opinião, vim fazer o meu baptismo político porque nunca me tinha metido em política. Como sabe, fui convidado, não me propus ao lugar. Continuarei como independente até às eleições. Mas quero dizer-lhe que enganei-me na igreja, enganei-me na pia baptismal e enganei-me no padre.”» E o jornalista-feito-deputado nunca mais se meteu em política.
Com Costa Carvalho, desaparece o Porto dos jornais. Saibamos ser dignos do seu legado.