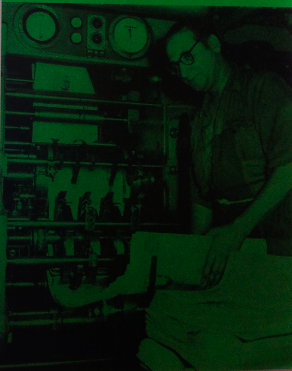Portugal, em 1967, apreciado pelo Diário
Popular. Nas boutiques, aparecem, como cogumelos, as novas mini-saias; na água,
uma nova modalidade emerge, o surf, protagonizada por pioneiros como Vasco
Pinto Basto.
sexta-feira, junho 20, 2014
quinta-feira, junho 19, 2014
Vândalos à vista. Redes sociais, o Coliseu de Roma e os parques naturais
Caminho no interior de um parque natural
através de um trilho velho, mas transitável. Ali perto, a poucas centenas de
metros, as primeiras habitações do concelho de Palmela certificam que o Parque
Natural da Arrábida é uma das áreas protegidas portuguesas com maior densidade
populacional humana. Este mesmo trilho é amplamente percorrido por ciclistas e
caminhantes durante os fins-de-semana, mesmo que poucos saibam que a poucos
passos dali se esconde um sítio arqueológico de importância nacional. Já me
habituei ao lixo espalhado pela paisagem, semeado a eito... Embalagens, vidros,
papel, dejectos... Tudo serve para deitar no balde do lixo da natureza.
Aproximo-me do sítio arqueológico que vim
conhecer. Olho em redor, à procura de referências. Alguns muretes sugerem uma
ruína, mas não existe informação visível. Procuro com mais afinco. Tenho bem
presente na memória o amplo debate sobre as verbas que o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas dedicou à comunicação, através da
revitalização e afixação de painéis informativos e sinalética. O Ministério do
Ambiente agrega estas despesas em rubricas mais complexas, o que impossibilita
o conhecimento do valor concreto gasto, mas uma fonte do ICNF não tem dúvidas
em confirmar que, na última vaga, foi investido mais de um milhão de euros.
Não há nada de pé, mas isso não significa
que o dinheiro se tenha esfumado. Na verdade, os painéis existiram. Neste caso,
o painel foi metodicamente pontapeado para fora da sua estrutura de madeira.
Uma vez removido dos suportes, foi partido em pedaços e depois exposto no solo,
em jeito de puzzle. Ficou ali como despojo de uma guerra surda entre as áreas
protegidas e os seus visitantes.
Deparo com o mesmo cenário em Ourém.
Semanas antes, tinha-o visto também no Paul do Boquílobo, num ponto do parque
natural que considerara ingenuamente demasiado remoto para ser notado.
Intriga-me a redundância. A violência contra a sinalética. O vandalismo
gratuito, que tanto se expressa na destruição de painéis como na profanação de
vegetação ou lajes com graffiti e outro lixo.
No Verão passado, a mesma discussão
atravessou os Estados Unidos de lés a lés. O “New York Times”
(aqui) detectou rabiscos pintados nos frágeis
saguaros que deram nome ao famoso Parque Nacional do oeste americano; trilhos
pintados; inscrições em desfiladeiros; pinturas rupestres grosseiramente
manipuladas. No total, o Serviço Nacional de Parques estimava que 9.000 sítios
de interesse histórico ou natural tinham sido deliberadamente danificados desde
2009, incluindo o icónico Memorial a Lincoln em Washington.
Os vigilantes da natureza escutados pelo
jornal deram um contributo para a discussão, lembrando que, na era anterior à
Internet, sempre existiram actos deste género, mas eles circunscreviam-se à
geografia do local. Só eram visíveis quando o visitante seguinte chegasse ao
local. E são tão antigos como a espécie humana. Numa investigação divulgada
pela National Geographic em Dezembro do ano passado,
detectou-se que alguns rabiscos nas paredes do Coliseu de Roma tinham dois mil
anos. Tal como John e Vanda professam hoje o seu amor gravando ali um coração,
também Iulius Maximus lá quis deixar uma inscrição no século I d.C.
Hoje, porém, com a proliferação das redes
sociais, o vandalismo ganha asas... geográficas. Um rabisco num saguaro remoto
torna-se a pena no chapéu dos vândalos de trazer por casa, que afixam a proeza
e recebem gratificação imediata. Poderá ser esse o factor que despoleta a
explosão destas manifestações?
.JPG) |
| Lapa de Santa Margarida. Fotografia de Paulo Rolão. |
Não existem dados suficientes para ligar
os dois fenómenos e manifestações tão amplas não costumam ter causas tão
redutoras. Num livro recente (“The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism
Since the French Revolution”, 2013) Dario Gamboni lista dezenas de incidentes
gratuitos de destruição de expressões artísticas, desde o homem que destruiu a
martelo o famoso vaso Portland (já lembrado aqui), ao doente que atirou ácido contra o quadro de
Rembrandt ou ao turista que destruiu um dedo da estátua do David de Miguel
Ângelo em 1991. O historiador argumenta que a maior parte dos incidentes foi, à
época, construído como um acto lunático e demente, mas serviu diferentes
causas, desde o protesto contra determinada corrente artística à expressão de
raiva em público para chamar atenção para outras causas. E afinal a inscrição
de Iulius Maximus foi seguramente entendida no século I como um acto de
profanação e hoje constitui uma curiosidade histórica.
Gostava de ter respostas mais categóricas
para os “meus” painéis tombados. Tenho sérias dúvidas de que eles não sejam
muito diferentes dos rabiscos nos saguaros frágeis. Ou nas carruagens de metro
das cidades. Ou nas paredes do velho Coliseu. São manifestações de vaidade e
egoísmo, tiques de agentes sociais que precisam desesperadamente de sublinhar o
seu carácter especial face ao resto da multidão. De alguma forma, marcam uma
época – a nossa. Mas não com o cunho pretendido pelos seus autores.
terça-feira, junho 10, 2014
A edição ingrata e o talento do António
Por vezes, baralhamos mil vezes a galeria de fotografias disponíveis na
esperança de que, à décima passagem, algo tenha escapado – a imagem improvável
que vai salvar a reportagem, vai manter a reputação da revista, vai atrair o
leitor para as nossas páginas e motivá-lo a recordar-se da reportagem para sempre. No
processo, amaldiçoamos silenciosamente os homens do campo, os fulanos que saem
para a rua de máquina na mão para congelar o tema da reportagem num instantâneo
revelador. “Porque não deu um passo mais para a frente?”; “Porque não recuou?”;
“Porque não tentou outra posição, outra lente, outra iluminação?”. No conforto
da redacção, longe dos imponderáveis do campo, todas as fotografias mágicas
parecem possíveis.
Pontualmente, porém, sucede o contrário. À primeira passagem da galeria
de imagens, emergem possibilidades fantásticas de ilustração. Uma, duas, três
fotografias captam tudo o que queríamos contar. Dispensam legendas e
explicações. São metonímias perfeitas da história que decidimos relatar no
momento já distante em que a ideia original brotou. Lembro-me sempre nestes
momentos do que escreveu a controversa escritora Anaïs Nin que, para mal dos
seus pecados, herdou um nome próprio infeliz e uma tendência incontrolável para
redigir diários íntimos. «Tudo nasce do excesso. A grande arte nasceu do grande
terror, das grandes inibições, das grandes instabilidades – forma com eles o
equilíbrio indispensável.» [cito de memória]· É, pois, de excesso, de
abundância que falamos agora.
Há alguns meses, o António Luís Campos propôs-nos uma história
formidável. Graças à extraordinária cooperação de António Candeias, do
Laboratório de Conservação e Restauro José de Figueiredo, e dos conservadores-restauradores Miguel Mateus e
Teresa Reis,
tínhamos acesso ao trabalho de investigação desta equipa em torno das
representações pintadas de Afonso de Albuquerque, segundo vice-rei português na
Índia. Não quero estragar a leitura a ninguém [disponível aqui, já agora], mas
a obra foi socialmente construída e reconstruída sucessivamente desde o século
XVI, ao sabor da ideologia de cada época e dos preconceitos dos seus agentes.
No léxico de um editor, a história tinha todos os ingredientes: uma figura
histórica, um mistério, ciência de ponta, espiões, uma invasão e um quadro que
ora tinha barbas brancas, ora as perdia por soberba de um político.
Como sempre acontece nesta casa, debatemos intensamente as possibilidades
visuais. As reportagens de laboratório são terríveis. No ambiente descontaminado
das pipetas e bicos de bunsen, das paredes brancas e microscópios, todas as
fotografias parecem iguais. Com a malícia que lhe é característica, o António
assegurou que traria fotografias diferentes. E, na verdade, mostrou-se fiel à
palavra dada.
Voltamos aos excessos da Anaïs Nin. Logo à primeira passagem da galeria
de imagens disponíveis, saltaram à vista estas duas extraordinárias
representações de tudo o que queríamos dizer. Em duas composições, o António
mostrava o quadro que chegara a Lisboa em 1953 já repintado por Gomes da Costa
na Índia com amplas liberdades criativas, o quadro que a equipa de João Couto
descobrira com exames radiológicos no MNAA e indícios da pintura original que
lhes estava subjacente.
Tivemos de optar – espero que bem. Ficou na maqueta a imagem enigmática
com todas as representações conhecidas penduradas numa parede de luz, enquanto
Miguel Mateus anotava diligentemente os contratempos sofridos pela obra; ficou
pelo caminho a imagem tecnológica, captada com um iPad, expressando igualmente
as diferentes fases do desenho de Afonso de Albuquerque (que até pode não ser o
próprio, pois essa averiguação deverá agora ter lugar na Galeria dos Vice-Reis em
Goa).
Por sobreposição de compromissos, não vou poder participar na palestra do
António Luís Campos no Porto, no próximo dia 12, na Reitoria da Universidade.
Celebram-se ali dez anos (quase 11) de colaboração do António com a edição
portuguesa da National Geographic, o que vale por dizer que são dez anos de
dilemas como este. De escolhas entre o bom e o óptimo. De materiais estupendos
por vezes excluídos somente para evitar redundâncias no nosso processo de story-telling.
Tem-se falado muito em selecções nacionais durante estes dias de
antecipação do Mundial. O António estará seguramente na minha selecção nacional
dos melhores.
Era isto que eu diria na 5.ª feira, na Reitoria da Universidade do Porto, se tivesse oportunidade.
Era isto que eu diria na 5.ª feira, na Reitoria da Universidade do Porto, se tivesse oportunidade.
quarta-feira, maio 28, 2014
A canibalização da língua
Quis o destino que eu tivesse participado em
reuniões recentes com gestores e universitários. Para lá dos temas em cima da
mesa, fico aterrorizado com a progressão galopante do... Portuglês, mistura
improvisada e desnecessária de vocabulário anglófono para expressar conceitos
que, sem esforço, poderiam ter sido enunciados na língua de Camões. Pior: dou
por mim a repetir os mesmos tiques, mimetizando o comportamento dos anfitriões
numa submissão à pressão do grupo que Jane Goodall já notara nas comunidades de
chimpanzés.
Exemplo típico de uma reunião moderna:
- Fez o benchmarking da concorrência?
- Sabe, muitos fizeram um upgrade recente de competências. Outros
ainda estão em assessment.
- Que research methods utiliza normalmente?
- Gosto muito do world caffe. Permite grande
interactividade.
- Nunca faz role play?
- Tento, mas as samples que assistem aos workshops
nem sempre são fiáveis.
- Que materiais de support existem nas salas?
- Há datashows, claro. Temos wireless
para todo o átrio. E pointers para os
oradores. Há muita coisa em cache.
- Hum... E está previsto coffee-break?
- Nestes work groups, prefiro pausa mais informais, uma espécie de brunch.
- A publicidade do evento será online ou também utilizará outdoors?
- Vamos carregar nos MREC, claro. Banners também. Tudo depende do target.
Até porque o Average Time Spent na net está em quebra.
- O site deles tem quantos OTS?
- O reach depende muito porque os tipos aldrabam os ATV.
- Usamos CPC, CPM ou CPO como standard?
- Se quer que lhe diga, nenhum é
fiável. Até prefiro os CPL.
- Embedded ou skycraper?
- Um mix funciona sempre bem.
- Devíamos criar avatars falsos para furar as firewalls deles.
- Talvez, mas temos
responsabilidades éticas no campo do B2B
e mesmo do B2C.
- Acha? A minha preocupação é com o backbone desta empresa.
E pronto! Cá vou, cantando e rindo,
integrado na corrente Portuglesa. E soltando gargalhadas sempre que me
lembro disto.
Bom... Tenho content para produzir. Cheers!
segunda-feira, maio 26, 2014
A Fonte das 40 Bicas
1768.
Lisboa ainda vive
atormentada com as repercussões do sismo de treze anos antes e a corte de Dom
José mantém-se na Ajuda, onde pouco ruiu, cimentando a confiança régia na
geologia do seu novo bairro.
O rei recrutou o naturalista
italiano Domingos Vandelli para o seu empreendimento mais recente: a construção
de um espaço de lazer para os príncipes e netos. Vandelli trouxe de
Pádua o modelo de um jardim botânico moderno e preocupou-se em criar uma
colecção vasta de espécies vegetais – nos tempos áureos, o Real Jardim Botânico
da Ajuda chegou a ter cinco mil espécies, oriundas de todos os cantos do globo.
As décadas subsequentes ao
sismo de 1755 foram, porém, aventurosas e os braços de Vandelli, naturalista
formado em medicina que se correspondia com Lineu, não chegavam para todos os
fogos. Quatro anos depois da incumbência de criar um jardim botânico na Ajuda,
em 1772, Vandelli foi chamado a Coimbra como lente de História Natural e
Química na Universidade. Ali também criou as bases do jardim botânico da Universidade
de Coimbra e idealizou as viagens filosóficas à Amazónia, conduzidas por alguns
dos seus alunos.
Na Ajuda, portanto, o
projecto ficou na mão de um auxiliar, o chefe dos jardineiros Júlio Mattiazi. Igualmente originário de
Pádua, Mattiazi tratou do jardim e… da pedra. Idealizou as fontes que orientam
a visita e estruturam a paisagem da Ajuda, tanto ou mais do que as sebes. A
mais famosa, a Fonte das 40 Bicas, reúne animais míticos e fauna aquática, num
espantoso conjunto de serpentes, peixes alados, cavalos-marinhos e outras
feras. Segundo garante a tradição do bairro, a fonte terá sido construída
exclusivamente com mão-de-obra da Ajuda.
De acordo com a directora do Jardim
Botânico, a professora Dalila Espírito Santo, a documentação sobrevivente na
Ajuda [grande parte foi para Coimbra; alguma seguiu para a Faculdade de
Ciências na Rua da Escola Politécnica; e algum espólio viajou com a comitiva
real para o Brasil em 1808 e ficou pelo Rio de Janeiro] comprova que Vandelli
não ficou maravilhado quando viu as fontes de Mattiazi. Afinal, um jardim
botânico é um espaço no qual a vegetação deve reger a paisagem, recusando a
submissão à construção de pedra.
Hoje, porém, a caminho dos
250 anos do Jardim Botânico da Ajuda (em 2018), após testemunhar revoluções e
mudanças de regime, cuidados desvelados e descuidos sem perdão, são as fontes
que permanecem imutáveis desde 1768. O ciclo de vida das plantas, naturalmente,
foi fazendo a sua selecção, as pilhagens napoleónicas destruíram muito, o clima
distinguiu as espécies mais adaptáveis e a crónica falta de financiamento
também deixou mossas.
Do Jardim Botânico original,
ficaram os peixes alados de Mattiazi, que Vandelli desaprovou, mas o tempo
validou.
Ler também: Almaça, Carlos. A Natural History Museum of the 18th Century, 1996, Museu Bocage, Lisboa.
Ler também: Almaça, Carlos. A Natural History Museum of the 18th Century, 1996, Museu Bocage, Lisboa.
sexta-feira, maio 23, 2014
Distorted Alarms, 2014
Finalmente publicado. O 2.º spin-off da tese.
Avisem-me se precisarem do PDF. /
Published at last. My dissertation's second
spin-off. Let me know if you need the article PDF. Cheers!
terça-feira, maio 20, 2014
Urbano Carrasco foi “correio” acidental de Salazar
«Com os meus
respeitosos cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para fazer um breve
relato que suponho oferecer interesse. Se assim for considero-me satisfeito por
servir Vossa Excelência. Caso contrário, lamento fazer perder um tempo que é
valioso», começava a carta dactilografada pelo jornalista Urbano Carrasco no
dia 19 de Fevereiro de 1964, com destino a António Oliveira Salazar, presidente
do Conselho.
Em duas ocasiões
anteriores, já aqui relatei casos protagonizados pelo extraordinário repórter
do Diário Popular que foi Urbano Carrasco [inseridas no livro Parem as
Máquinas!]. Hoje, narro um episódio diferente, porventura o mais delicado da
carreira deste homem que dedicou quarenta anos ao vespertino lisboeta. Evitarei
juízos críticos e sentenças morais desadequadas, pois o contexto histórico e
militar da época é irrepetível. Em 1964, o Estado português encontrava-se em
guerra e certamente que Urbano Carrasco pesou as implicações deontológicas da
profissão face ao dever de lealdade para com o governo.
A
carta, recebida pelo ditador dois dias depois, em 21 de Fevereiro, conforme
nota manuscrita no canto superior esquerdo da missiva, continuava: «Na minha
recente entrevista, em Madrid, que o Diário Popular está a
publicar, fiz algumas perguntas que ficaram sem resposta e no que se refere a
outras foi-me dito que as não poderia divulgar.» A que se referia Carrasco?
No dia 18 de
Fevereiro de 1964, o jornal dirigido por Martinho Nobre de Melo utilizou mais
de metade da sua primeira página para um tema internacional, uma raridade num
jornal definido em 1956 por Guilherme Brás Medeiros, um dos seus
administradores, como um jornal de noticiário de proximidade. Apesar disso,
nesta terça-feira, titulava-se em letras garrafais: “TSHOMBÉ FALA AO DIÁRIO
POPULAR SOBRE A MORTE DE LUMUMBA E A ACTUAL SITUAÇÃO NO CONGO. O MEDO É O
RESPONSÁVEL PELO QUE SE PASSA EM ÁFRICA!” A entrevista exclusiva fora obtida em
Madrid por Urbano Carrasco e a sua publicação fora partida por três edições,
sempre com destaque de primeira página, apesar de o tema competir na agenda com
outros focos de atenção, como o golpe de estado no Gabão, a intervenção das forças
internacionais em Chipre e o terrível sismo da ilha de São Jorge, nos Açores.
Moisés Tshombé
(1919-1969), porém, era um dirigente político em quem o governo português
apostara fortemente desde 1960. Filho de uma família nobre, fora educado numa
escola de missionários no então Congo Belga e formara-se em Contabilidade.
Fundara na década de 1950 o CONAKAT, um partido que se distinguira primeiro na
luta contra o colonialismo belga e, logo depois, por declarar a secessão da
província do Catanga face ao Congo. Nas eleições legislativas de 1960,
conquistara o poder e oferecia ao mundo um discurso alternativo ao de Lumumba
no Congo e de Holden Roberto em Angola. Anticomunista, propunha-se colaborar
com os governos belga, francês e português na reconstrução económica do
Catanga, então responsável por 60% da produção mundial de urânio e 80% dos
diamantes industriais (dados do major Rui Velez, no seu excelente Salazar e
Tshombé, 2013, DG Edições, fonte principal deste texto e autor da descoberta da
carta de Urbano Carrasco para Salazar, amavelmente disponibilizada).
O percurso político de Tshombé
replica a história atribulada do próprio Congo. A declaração de independência
do Catanga conduziu a uma intervenção da Organização das Nações Unidas no
território, a pedido de Patrice Lumumba e Cyrille Adoulla, líderes
independentistas do Congo. Em Janeiro de 1961, Lumumba deslocara-se ao Catanga,
mas fora detido, torturado e executado, alimentando ainda mais o caos no território
(uma comissão posterior do Parlamento Belga isentou Moisés Tshombé de
responsabilidades na execução de Lumumba). Face à intervenção da ONU, Tshombé
exilou-se na Rodésia do Norte e depois em Espanha, onde Urbano Carrasco o
encontrou, semanas antes de o dirigente regressar ao Congo para integrar novo
governo de coligação.
A investigação de mestrado do major
Rui Velez (disponível aqui) revela exaustivamente que Salazar
e Franco Nogueira apostaram fortemente na liderança de Tshombé, que visitara
Lisboa em 1963. No Forte do Estoril, Salazar propôs ao dirigente do Catanga a
supressão das bases das forças independentistas angolanas no território, bem
como a detenção dos cabecilhas do movimento. A guerrilha independentista
provocava então evidentes danos no Nordeste de Angola e a possibilidade de os
homens de Holden Roberto cruzarem livremente a fronteira do Congo impedia o exército
português de retaliar. Em troca da intervenção no Catanga, o ditador português
oferecia aconselhamento e equipamento militar. Nos seus volumes de memórias,
Franco Nogueira revelou que Salazar achou Tshombé lúcido e realista, tendo mesmo
comentado: «No meu espírito, promovi-o a estadista branco.» O Catanga adquiriu
vasto equipamento militar nos meses seguintes.
Era neste homem e no seu projecto
para o Catanga que o governo português apostava para recuperar o controlo sobre
a frente militar no Norte de Angola. Todavia, a entrevista de Urbano Carrasco
(que terá sido obviamente lida e aprovada pelos Serviços de Censura, embora eu
não tenha encontrado as provas da Censura destes textos) versou exclusivamente
sobre a situação política no Congo, nunca mencionando Angola ou a frente
guerrilheira de Holden Roberto. No primeiro trecho da entrevista (18 de
Fevereiro), Carrasco apresentou Tshombé, distinguindo-o de Lumumba e das ameaças
veladas que este fizera aos antigos dirigentes coloniais; no dia seguinte, o Diário
Popular dava-lhe
voz para recusar responsabilidades na morte de Lumumba e dois companheiros. Na
peça, Tshombé acusava o governo central congolês pelo sucedido e Cyrille Adoula
pela polémica decisão de regar os três corpos com ácido, impedindo qualquer
exame legal posterior. Em título, referia: «NÃO FORAM PRISIONEIROS MAS
AGONIZANTES O QUE RECEBEMOS EM ELISABETHVILLE – ESPANCAMENTO MORTAL DE LUMUMBA
PELOS SOLDADOS DO GOVERNO CENTRAL CONGOLÊS.»
Por fim, no terceiro e último trecho
da entrevista, Tshombé repetia a Carrasco a nota dominante do seu discurso: «ADOULA,
QUE ORIENTOU PESSOALMENTE A DESTRUIÇÃO DO CADÁVER DE LUMUMBA, É UM FANTOCHE QUE
NÃO SABE O QUE FAZ E A ONU, SUFICIENTEMENTE DESPRESTIGIADA NO CONGO, VAI SAIR
DALI SEM TROMBETAS NEM BANDEIRAS.» No corpo da entrevista, Tshombé sossegava os
europeus: «A colaboração com os europeus é indispensável. Só com ela se poderão
salvar os países africanos e fazê-los trilhar uma senda de progresso.» Em jeito
premonitório, Tshombé avisava Carrasco: «Será necessário muito tempo, receio-o,
para que o Congo volte a ter paz. Vai mesmo conhecer, nos meses que se
avizinham, horas extremamente difíceis.»
O RECADO PARA SALAZAR
Na Villa Kaunis em Madrid, elegante
propriedade no bairro de La Moraleja onde a delegação do Catanga se exilara,
Urbano Carrasco fez várias perguntas sobre Angola, Portugal e o apoio que Moisés
Tshombé se propunha dar à causa nacional. O líder do Catanga, porém, pediu
explicitamente que o jornalista não publicasse as suas respostas sobre o tema
pois, se atendesse o pedido, «não deixaria de ser violentamente atacado pelos
americanos.»
Carrasco quis saber o que faria
Tshombé face à «incompreensível liberdade e apoio que são dados aos bandos de
guerrilheiros que ali [no Congo] têm a sua base e dali organizam ataques contra
Angola». A resposta foi pronta:
«Não tome nota do que vou dizer-lhe.
Pelo menos não o escreva no seu jornal, pois ver-me-ia obrigado a desmenti-lo…
Já tenho suficientes complicações com os americanos e não deixariam de me
atacar violentamente dizendo que eu sou amigo dos colonialistas. Também isso me
criaria dificuldades no Congo, mas a minha recusa em responder-lhe para publicação
é devida, sobretudo, aos americanos. Para si, contudo, sempre lhe direi que a
minha posição e a minha amizade pelos portugueses são bem conhecidas. E se um
dia eu dirigir o Congo, nem sequer é problema o que me pergunta: claro está que
nessas circunstâncias nunca poderiam viver no Congo esses Holden Robertos e
outros! Isso é problema que nem se põe. Mas se o fosse dizer agora, os
americanos caíam-me em cima, ainda com maior violência!»
A outra questão sobre a hegemonia
americana sobre os interesses económicos do Congo, Tshombé voltou a pedir
sigilo: «Também não posso responder-lhe a essa pergunta e peço-lhe que não diga
no seu jornal que a formulou. Porque espero poder responder-lhe sem quaisquer
restrições, mas só depois de instalado em Leopoldville…»
Urbano Carrasco terminava a missiva:
«Foi isto, Senhor Professor, que não publiquei, mas ouvi ao Presidente Tshombé
e suponho possa oferecer interesse ser [sic] do conhecimento de Vossa Excelência.»
Os dados, porém, estavam lançados e Tshombé perdera apoios decisivos. Regressou
ao Congo em triunfo no Verão de 1964, mas foi destituído um ano mais tarde.
Exilou-se novamente, fugindo a tempo de uma condenação à revelia em 1967. Com
apoio ocidental, Joseph Mobutu tomara o poder com mãos de ferro em 1965 e só o
largaria 32 anos depois.
Moisés Tshombé viria a morrer
na Argélia em 1969, na sequência de um ataque cardíaco. Dois anos antes, o avião
em que viajava fora desviado misteriosamente para Argel. O Diário Popular noticiou a sua morte na primeira página
no dia 30 de Junho de 1969 e Carrasco evocou, na página 11, a entrevista de
1964. Confessava «a admiração que fiquei a ter pelo discutido político e
estadista congolês face à serena prova de que ele dava provas» e lembrava que, à
data da entrevista, Tshombé ainda considerava Mobotu «um amigo pessoal»,
circunstância que a realidade desmentiria. Carrasco aproveitou então a ocasião
para referir que, à despedida em Madrid, Tshombé fizera votos para que o povo de Angola
vivesse em paz e não mergulhasse na miséria em que caíra o povo do Congo. «Nós,
portugueses, conseguimos evitar em Angola o que Moisés Tshombé, mesmo com
sacrifício da sua vida, não conseguiu para o Congo».
Com o entusiasmo patriótico,
Urbano Carrasco esqueceu em 1969 que omitira qualquer referência a Angola no
texto publicado cinco anos antes.
segunda-feira, maio 12, 2014
O ilustrador faz jornalismo?
 |
| "Ilustração Portuguesa", n.º 93, Agosto de 1905 (a partir do arquivo da Hemeroteca Digital) |
Em 1905, o Jardim Zoológico de Lisboa
mudou-se para as suas instalações actuais, em Sete Rios. Para trás, ficavam os
tempos de Palhavã e das jaulas improvisadas, onde se encafuavam os animais, tristes e melancólicos. Nos terrenos da Quinta das Laranjeiras, o projecto
iniciado por Dom Fernando II ganhava por fim dignidade. Era certamente nisso
que os convidados pensavam no dia 28 de Maio à medida que se cortavam fitas e
se discursavam palavras de circunstâncias, dois hábitos portugueses tão antigos
como a ginja e o chinquilho.
Entre os animais expostos, um felino estranhava o ambiente. Era um leopardo moçambicano, oferecido por João de
Azevedo Coutinho ao rei Dom Carlos – e por este cedido ao Zoológico. “O Século”
refere que os uivos dos felinos assustavam as senhoras e motivavam graças dos
cavalheiros.
Meses depois, em Agosto, o Zoo e o
leopardo voltaram às páginas dos jornais. Desta vez, sem discursos nem
gracejos, mas com um episódio dramático que comoveu a cidade. Não se sabe bem
como (alguns jornais falam num descuido durante a transferência do animal;
outros referem que o felino encontrou uma fenda no topo da sua nova jaula), mas
o leopardo evadiu-se. Andou à solta – primeiro a passo, depois a trote. Soltou
alguns rugidos, assustou e assustou-se.
O animal tentou sair do Jardim Zoológico e
desaparecer por Sete Rios, mas alguém alertara a guarda e um regimento de
infantaria impediu o êxodo urbano que teria sido ainda mais espectacular. O
leopardo fugiu assim para o interior do Zoo, dissimulando-se entre a folhagem e os silvados. Foi visto junto dos macacos e,
mais tarde, perto da jaula das águias. Ali, por fim, foi encurralado. Em seu
redor, acercaram-se 14 soldados e alguns tratadores, com forquilhas, facas
atadas a paus em jeito de baionetas e armas de fogo. Parecia um exercício
militar. Nervosos, os homens dispararam à primeira ocasião e feriram a fera com balas reais.
O leopardo deu alguns passos e tombou
pesadamente à entrada do Túnel das Águas Boas. Destemido, o soldado 19 da 3.ª
Companhia quis vê-lo de perto e acabou por vê-lo efectivamente mais perto do
que gostaria. Num último sopro de vida, o leopardo atirou-se ao rosto do
infeliz e ali fincou os dentes. Aterrorizados, os camaradas de armas não se
fizeram rogados e dispararam sem norte, sobre a fera e sobre o homem. O animal
morreu de imediato. O soldado, crivado de balas, seguiu de carro eléctrico para o Hospital de São José, onde foi operado e sobreviveu, embora o seu nome não tenha sido
preservado para memória futura.
Dos relatos jornalísticos que li, destaco
o trabalho de “O Século” pela aposta clara na inversão das prioridades
tradicionais de representação. Sempre mais activo do que a concorrência, o
jornal de Silva Graça encomendou uma ilustração a um artista que não
consegui identificar, apesar da assinatura rabiscada no canto inferior
esquerdo. Recolhendo testemunhos presenciais, o ilustrador criou esta
reconstituição, usada no jornal e na revista semanal “Ilustração Portuguesa”.
As fotografias de suporte foram publicadas nas páginas seguintes, num
reconhecimento implícito de que era a ilustração o suporte ideal para contar
esta história.
Lembrei-me hoje deste episódio quando li a
mensagem de um leitor que se queixava da excessiva prioridade que damos às
ilustrações na revista. O fotógrafo tem uma abordagem jornalística, ao passo
que o ilustrador aborda a representação com uma perspectiva artística –
argumentava. Ontem como hoje, será mesmo a fotografia o dispositivo universal
para contar visualmente qualquer história? Ou a reconstituição de um ilustrador pode ser um gesto tão jornalístico como o clique na máquina?
terça-feira, maio 06, 2014
A história para lá do óbvio
A maior parte dos
trabalhos publicados na revista resulta de planeamento e de produção. Sempre
que me convidam para falar sobre fotografia na National Geographic, tenho o
cuidado de sublinhar que a espontaneidade é muito mais rara do que os leitores
imaginam. Por regra, antes de captar uma fotografia, o repórter fotográfico já
a imaginou. Já testou outras soluções de composição, iluminação e exposição. Já
fez experiências que correram mal. É raro o momento em que um fotógrafo sai
despreocupadamente para o campo e capta, sem preparação nem reflexão, o momento
certo. Por outras palavras: a espontaneidade custa muito trabalho e não tem
nada que ver com a sorte.
Em Janeiro deste
ano, fiz uma intervenção deste teor no festival de fotografia de Vouzela,
procurando sublinhar a importância das narrativas visuais para a nossa
publicação e a necessidade premente de não repetir conceitos, nem objectos.
Tinha então em mente um trabalho em curso que o fotógrafo Steve Winter levava a
cabo com os pumas da América do Norte. Motivado para fotografá-los em contexto
semi-urbano, Steve dedicou mais de um ano a esta reportagem e a fotografia mais
emblemática (um puma caminhando em frente do lendário cartaz de Hollywood, em
Los Angeles) demorou quatro meses a executar. Não houve nada de acidental na proeza!
Ora, em Vouzela,
assisti a várias apresentações. Uma delas, do jovem fotógrafo Ricardo Lourenço,
representava o Alentejo selvagem, tal como a região se apresenta a este
repórter de Portalegre. Entre várias fotografias memoráveis, fiquei com esta debaixo
de olho: um lacrau fluorescente. Não sabia nada sobre o tema, nem imaginava se
o Ricardo teria procurado documentação sobre o fenómeno ou se a imagem
resultava da tal espontaneidade que eu não me canso de dizer que é inexistente.
Foi uma das poucas
ocasiões em que uma página da National Geographic nasceu a partir de uma
fotografia e não de uma ideia original, susceptível de desenvolvimento
posterior e de materialização em imagem. Ao talento do Ricardo, juntou-se o
conhecimento do biólogo Pedro Sousa, investigador do CIBIO, que contextualizou
o fenómeno, forneceu informação científica recente, desconstruiu algumas ideias
feitas que eu tinha sobre a função deste dispositivo e permitiu que o texto
fosse o mais rigoroso possível, dentro dos constrangimentos de espaço que as
secções iniciais impõem.
Eis portanto como
um inofensivo lacrau terminou nas páginas da edição portuguesa da National
Geographic. Com o talento do Ricardo e a sabedoria do Pedro.
sexta-feira, maio 02, 2014
Liberdade de Imprensa
Havendo dias para tudo e mais alguma coisa, algum dia teria de ser o nosso. Parece que é hoje. Bom Dia da Liberdade da Imprensa!
Fotografias
da redacção, composição, impressão e distribuição do Diário Popular. C. 1962.
Subscrever:
Mensagens (Atom)